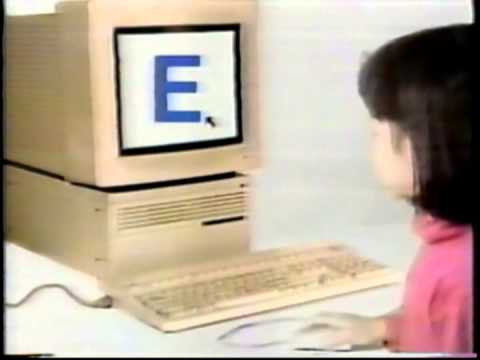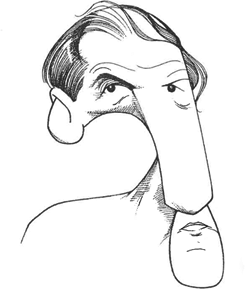Longa ressalva: Sou contra qualquer inovação tecnológica que coloque os trabalhadores pobres ao subjugo de grandes empresas. Assim como também sou contra qualquer tecnologia e qualquer inovação tecnológica que subjugue a natureza, ou tenda a esgotar seus recursos. Este é o caso da inteligência artificial comercial, que nos últimos anos, explorou mão de obra barata para o treinamento e seleção de dados e usou e abusou dos mananciais para a refrigeração dos seus data centers. No entanto, acredito que, malgrado este estado de arte, ela seja uma ferramenta que pode ajudar a classe trabalhadora e cujos uso, produção e desenvolvimento podem ser éticos, possíveis e distantes de grandes empresas. A China o mostrou e é disso que será tratado neste texto de Grise Bouille.
Grise Bouille (@gee@framapiaf.org) é um escritor, cartunista e rádio-colunista francês, com formação em ciências da computação. Conheci-o através do Mastodon do magnífico @ploum@mamot.fr, que endossou Bouille. Ploum, inclusive, já teve tradução minha aqui nas Ideias de Chirico, em que ele defende o conceito de um computador que combata a obsolescência programada, a partir de uma forte ideologia de código aberto e de faça-você-mesmo, inspirado pelo legado da máquina de escrever.
Grise Bouille, por estar transmitindo sua mensagem por rádio, não perde a oportunidade de usar expressões idiomáticas, gírias e até mesmo palavrões ― mas tudo sustentado em um francês padrão. O francês possui três registros linguísticos bem estabelecidos: o corrente (courant), do dia a dia; o familiar (familier), usado dentro de casa e entre amigos; e o monitorado (soutenu), usado nos contextos jurídico, acadêmico ou literário. O português brasileiro, por outro lado, possui somente os registros formal e informal que vão variando em um degradê de dois polos, e que, a depender da situação, deslizam um ao outro, conforme o efeito que se quer causar.
Emular em português esse mesmo estilo de Bouille de descontração calcada em uma língua padrão me foi impossível, então preferi tender ao estilo informal, imaginando como um escritor brasileiro se expressaria pelo rádio. Devo me desculpar, no entanto, por esta tradução ter ficado mais séria em comparação com o texto original, já que não consegui encontrar relativas em português de uma parte das expressões idiomáticas que o autor usa.
Agradeço fortemente à minha aluna beninense de PLE, Eunice Houeze, que matou muitas charadas de tradução e de informações culturais sem o qual este texto sairia. Toda a sorte para ela na prova de proficiência de língua portuguesa (Celpe-Bras) e no seu vindouro curso de medicina!
Aqui o texto:
A IA não sumirá
Publicado em 26 de junho de 2025 por GEE no JUKEBOX ― a publicação original.
Olá a vocês, público do Libre à vous.
Bom. Sinto muito, mas é preciso que se fale disso. Sim, é necessário ainda que se fale de inteligência artificial. Gostaria de um assunto mais leve e divertido para a minha última coluna da temporada, mas, que você quer? De qualquer forma, é o assunto do momento.
Contei: já é minha quarta coluna sobre IA, a primeiríssima datando de março de 2023, em plena explosão da popularidade do ChatGPT. E não sou o único a falar disso regularmente, tanto no rádio quanto em outro lugar.
Então, quando um livrista [1] como eu fala de IA, em geral, oscila entre três eixos:
É perigoso, é ecocida, é pipi, é totô, é capitalista. O que é verdade. Daí você boicota a coisa e convoca boicote massivo;
Não é nada, veja, tudo vai bem, ChatGPT não sabe contar e erra adivinhas para crianças. O que é verdade também. Aí você fica de melhor humor, brinca mostrando que, apesar dos resultados serem às vezes impressionantes, ainda assim isso rapidamente nos põe em dúvidas. Bem, eu comecei cedo nesse modo, né? Escute de novo minha primeira coluna sobre o tema para estarem certos disso;
É uma moda, uma bolha, é como o Metaverso e os NFT, da qual se vê em todo canto, é insuportável, mas vai acabar por passar.
O que é parcialmente verdadeiro: é insuportável. Em compensação... bom, quanto mais o tempo passa, mais me parece bastante otimista pensar que a IA vai acabar por simplesmente desaparecer, pois insustentável, pois tudo quanto.
Então, fui o primeiro a dizer diversas vezes que a IA era uma bolha, que ela acabaria por explodir. E sigo a defender isso hoje, penso que a IA é uma bolha financeira, mas não se deve interpretar mal o que isso significa: ao fim dos anos 90, havia uma coisa que se chamava “bolha.com” e que estourou no início dos anos 2000. No entanto, correndo o risco de lhe surpreender, a internet ainda está aí. Pior: o valor e o peso da internet atual superariam os de antes da bolha por uma encantadora experiência sociológica.
Então, não é porque a bolha financeira da IA acabará por estourar que é preciso imaginar que a IA desaparecerá logo em seguida sem deixar traços. Quando a bolha estourar, ela causará sem dúvidas uma bela confusão econômica e social ― enfim, uma reconfiguração no mercado, como se diz entre os imbe... entre os neoliberais. Mas a IA não sumirá. Há mesmo um risco, como com a internet, de que ela acabe por retornar mais forte do que nunca.
O fato de ela ser ecologicamente insustentável é fora de propósito: o sistema capitalista é intrinsecamente ecologicamente insustentável e isso jamais o impediu de dirigir o curso do mundo. Para a sua perda, sim, sem dúvidas, mas você vê bem que isso não é suficiente para pará-lo.
Quanto a um modelo economicamente viável, tenho cada vez menos dificuldade em crer que a OpenAI e companhia o encontrarão: estamos ainda na fase “A primeira dose é gratuita”. Mas não nos enganemos, essa é uma droga devastadora, da qual milhões de pessoas já se tornaram dependentes em alta velocidade.
Não se deve deixar que nossa própria bolha ― uma bolha de filtro dessa vez ― faça-nos esquecer que o ChatGPT tornou-se, em alguns meses, o serviço com a taxa de adoção mais rápida da história da informática, ganhando mais de 100 milhões de usuários(as) por mês. A pertinência de comparações com o Metaverso e os NFT deveria ficar aí.
Se o ChatGPT parar de fornecer uma versão gratuita, aposto que a taxa de adoção da versão paga será também vertiginosa. E a gente vai ver florescer ofertas “pacote internet + assinatura de ChatGPT”, como hoje a Orange oferece “pacote internet + assinatura de Dezzer”. E vai dar certo.
Pois a IA generativa tornou-se já uma necessidade incontornável para milhões de pessoas, a começar pelos mais jovens. Um estudo publicado na última quinta-feira [19 jun. 25] indica que 42% daqueles entre 18 e 25 anos declararam utilizar IA todos os dias, 80% utilizam ao menos uma vez por semana [2]. Um uso que, na minha humilde opinião, tenderá simplesmente a se alinhar à taxa de uso de esmartefones, com ChatGPT se tornando um aplicativo tão comum quanto Whatsapp ou Youtube, se esse já não for o caso.
No instituto técnico onde dou algumas aulas, quase todos os alunos estão sempre com uma aba do ChatGPT no navegador. Isso se tornou uma ferramenta tão usual quanto um navegador. Embora nem todos os alunos usem do mesmo jeito; há aqueles que o utilizam com parcimônia, com resistência; e ainda aqueles que copicolam os enunciados, depois copicolam as respostas sem entender nada com nada... mas que mesmo assim se viram. Esses alunos não têm os mesmos perfis, inclusive. Mas voltarei a isso depois.
Em todo caso, não consigo me ressentir com eles: em seu lugar, do alto dos meus 18 anos, teria, sem dúvida, feito algo parecido. Apesar disso, a primeira fornada de estudantes que obtiveram seus diplomas delegando a maior parte de seus estudos a uma IA chega já, e chega ligeiro, não em cinco anos, mas agora. Esses serão os mesmos jovens adultos para as quais a questão de prescindir da IA não será mais uma opção: se for preciso pagar, assim será.
Claro, alguém vai replicar dizendo que falo sobre um instituto técnico, que é ainda uma bolha um pouco particular, e, sim, claro. Mas você tem mais ou menos os mesmos ecos em facul de direito, de línguas, de economia... e até de medicina, né?, que a mim me inquieta um pouco as competências de nossos futuros médicos.
Além disso, falo de jovens adultos que estão estudando, mas, entre aqueles com 12-17 anos, tem-se 45% de jovens que declaram ter já utilizado IA em sua vida escolar ou privada. Sim, porque um caso de uso aparentemente bastante difundido é a IA como confidente, à qual se conta da vida, com a qual se dialoga como se com um bom parceiro. Mas além disso, um bom parceiro que está sempre disponível, sempre educado, que lhe fala sempre com benevolência e paciência.
Uma grande parte da geração atual de estudantes não pode mais imaginar sua vida profissional sem IA; uma grande parte da geração atual de colegiais em breve não poderá imaginar sua vida sem IA.
Logo, a IA não sumirá. Nesse sentido, os apelos ao boicote contra IA me parecem, quando muito, anacrônicos: sinto muito, mas é tarde demais para o boicote. Não é mais questão de impedir a ascensão da IA, é questão de saber como se continua a lutar pela emancipação, pela justiça, pela ecologia e pela igualdade social em um mundo onde a IA é onipresente.
Meu camarada Pierre-Yves Gosset, da Framasoft, chegou até mesmo a dizer, em sua última conferência sobre IA, que poder boicotar a IA era coisa de privilegiado. Sim, para você e eu, boicotar a IA é fácil, crescemos sem ela, não precisávamos dela. Da mesma maneira, particularmente defendo um boicote ao carro por razões ecológicas. Claro, isso é fácil para mim, vivo em um canto bem servido de transportes públicos, não tenho filhos e trabalho de casa.
Um grande erro que vejo frequentemente nos meios livristas consiste em ver a IA como um gadget de “techbros”, como se diz, um brinquedinho tecnológico para jovens executivos ricos, como os óculos conectados ou a cadeia de blocos. E se a IA é de fato em sua origem uma ideia de techbros e dos gigantes da tecnologia, por outro lado, ao meu ver, é nas classes populares que ela tem mais impacto.
Voltando ao instituto técnico. Um instituto de tecnologia não é exatamente a mesma coisa que uma faculdade de cientistas da computação: há uma mistura social muito mais significativa, com rapazes/moças que vêm da escola comum, de outras escolas tecnológicas ou profissionalizantes, filhos de operários misturados com filhos de pequenos servidores públicos ou outros... Com níveis extremamente heterogêneos, onde todo o desafio para os professores é conseguir fazer com que os mais debilitados não sejam ultrapassados pelos que estão mais tranquilos.
E, bom, isto pode lhe surpreender, mas muitas vezes são os meninos que têm mais dificuldade, frequentemente vindos de meios pobres, aqueles que usam e abusam da IA. Os alunos que vêm de meios mais favorecidos, em geral, são os mais críticos a essa tecnologia. Em um curso sobre Android, percebemos recentemente com meus alunos, que o Android Studio, o programa de desenvolvimento, adicionava às suas mensagens de erro “ask Gemini”, “pergunte ao Gemini”, a IA da Google. E, bom, meu aluno Thomas, vindo de colégio comum, de jeans e camiseta, 16 anos em média, reagiu com um “Pfff, que bobagem”. De qualquer forma ele tentou a princípio, mas logo viu que o Gemini enchia linguiça, e, ao ler a mensagem de erro, entendeu rapidamente e se corrigiu por conta própria.
Mais tarde, durante o exame no qual todas as anotações eram autorizadas ― porque não se vê interesse de fazer decorar pela programação ―, Brandon, de colégio tecnológico, de jaqueta esportiva e tênis, com média 8 [3], respondeu às questões da seguinte maneira: ele tinha uma pequena anotação onde havia metido todo o curso em ChatGPT, depois ele tinha lhe pedido para gerar dezenas e mais dezenas de questões possíveis. E durante o exame, ai!, pesquisava os termos das questões em sua pequena anotação, encontrava uma questão suficientemente parecida e copicolava a resposta. Dada a rapidez com que ele fez, não penso que tenha lido sequer uma de minhas questões. Não estou nem mesmo certo de que ele tenha entendido do que o curso tratava.
Mas ele tirou 11 no seu exame. Eu tinha proibido internet, mas autorizei todas as anotações, ele seguiu as instruções, não entendo porque deveria penalizá-lo. Thomas, que tinha 17 anos utilizando somente seus conhecimentos, terá também o mesmo diploma. (Aproveito para esclarecer que eu mudei os nomes, né?, para não expôr meus alunos em público).
Porém, é no mercado de trabalho que Thomas e Brandon se distinguirão, e, espóiler: bem, mais uma vez é o Brandon que vai se dar mal.
Porque, de um(a) profissional de computação que só sabe digitar comandos, se vê que não há pretensões salariais de bac+3 [4].Porque a IA será, ao fim, apesar das ilusões, um agravador de desigualdades sociais, um acelerador do empobrecimento das classes mais baixas. E, ao mesmo tempo, que tenho de melhor a propôr a Brandon? Quais são as minhas chances de conseguir fazer ele “boicotar” a IA que lhe permitiu desenrolar um diploma sem a qual sem dúvidas ele não conseguiria? Enquanto que todos os seus colegas fazem a mesma coisa?
O ChatGPT permitiu a um monte de gente péssima em expressão, em ortografia e em gramática escrever cartas de motivação perfeitas e parar de ser reprovada antes mesmo da entrevista de emprego: quem sou, eu, do alto do meu doutorado e do meu capital cultural de filho de professor, para pedir-lhes para boicotar?
Então, sim, eu sei, o mundo será melhor quando pararmos de considerar que gente sem diploma merece ficar pobre, ou mesmo quando suprirmos essas idiotices de cartas de motivação, tem razão! Mas isso é como derrubar o capitalismo: sei bem que vamos chegar lá na semana que vem, é uma questão de dias, né? Mas enquanto se espera, o que fazer? O que se faz com os alienados(as) esperando que seja abolida a alienação? O que se faz para esta geração que integrou a IA como nós mesmos tínhamos integrado a internet, como as gerações mais antigas tinham integrado a eletricidade ou a água corrente? O que se faz com toda essa gente que utiliza a IA para seguir melhor, para melhorar suas vidas, para se sair de suas condições sociais?
Ah, é um saco de questão, né? Não, mas tampouco eu gostaria de ter de pensar nisso. Também eu gostaria de que se tivesse impedido a OpenAI e companhia de desenvolver suas porcarias. Também eu gostaria de que esse furacão não tivesse chegado. Mas aí está, está por toda parte e isso não sumirá tão cedo. Boicotar, isto é, fazer nada de fato, é uma boa resposta a título individual, mas é como dar o gás na ecologia: já é preciso ter a possibilidade de fazer isso, mas, principalmente, isso não será suficiente em escala coletiva.
Para agir contra a hegemonia, é necessário então parar com a negação, observar esta realidade difícil de frente, mas sem cair, no entanto, na resignação ou derrotismo, enfim, manter a esperança de que nós temos, ainda assim, o poder de melhorar nosso mundo. E, por isso, gosto bastante de citar este diálogo do Senhor dos Anéis. É Frodo que se lamenta da guerra para a qual ele foi arrastado e diz: “Gostaria de que isso não tivesse acontecido no meu tempo”. Ao que Gandalf, o mágico, lhe responde: “Eu também, e o mesmo vale para todos aqueles que vivem em tempos parecidos. Mas não lhes cabe decidir. Tudo o que nos cabe decidir é o que pretendemos fazer do tempo que nos é concedido”.
Agora, amigo(a) livrista, em face à IA, como ao resto, eu lhe deixo para o verão essa pergunta: “O que vamos fazer do tempo que nos é concedido?”
[1]: Do original “libriste”, partidário do chamado culture libre, movimento pela cultura livre, de código e acesso livres e abertos. Como não há relativo desse nome em português, utilizei “livrista” como forma de o discernir dos “liberais”, partidários do liberalismo. Para saber mais, leia o artigo da Wiki em francês, ou sua versão lusófona linkada.
[2]: Essa é uma pesquisa que pode refletir o uso no Norte global. A situação no Brasil é diferente, como mostra a mais recente pesquisa da Datafolha com a Fundação Itaú. No entanto, o argumento de que a IA tornou-se uma necessidade incontornável para aqueles que a utilizam desde 2023, mesmo no Brasil, é considerável.
• Maioria dos brasileiros não usa IA generativa, como ChatGPT, mostra Datafolha (Folha de São Paulo).
[3]: Na transcrição e na locução do texto é pronunciado claramente “huit de moyenne”, ou seja, “oito anos em média”. Não sei se não conheço o sistema escolar francófono europeu, mas é pouco factível que uma criança estaria fazendo cursos de programação. De qualquer forma, decidi manter.
Post-scriptum: obrigado @hydrochoerus@cwb.social pela ajuda com esse deslize na tradução! Aqui o comentário que el_ me enviou via Fediverso:
quando o autor original disse “huit de moyenne”, rovavelmente se referia a “um aluno de média 8”, e não um aluno de 8 anos. Geralmente na França as notas escolares vão de 0 a 20 e a pontuação necessária para passar é 10.
[4]: “Bac+3” é literalmente “baccalaurêat mais três”. “Baccalaurêat” é a prova vestibular para ingressar em uma graduação no sistema de ensino francês. Com “mais três” o autor se refere aos três primeiros anos na faculdade pelos quais alguém consegue o grau de “licenciatura”, a partir do qual pode ensinar.
#tecnologia #tradução
CC BY-NC 4.0 • Ideias de Chirico • Comente isto via e-mail • Inscreva-se na newsletter