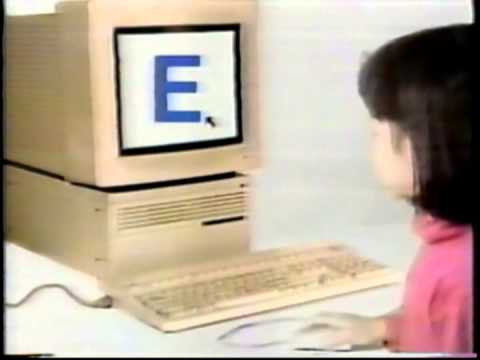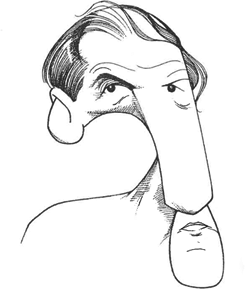Notas costuradas
from Ideias de Chirico
Imagem: Jeff Ball (via are.na). Este sou eu escrevendo esta ideia de Chirico.
Aquela publicação que lanço quando quero escrever sobre o que tenho lido, discutido e pensado sem precisar de algum fio condutor. Provavelmente a última do ano. Até o próximo, estarei pensando em
Um vindouro manifesto
Isso porque penso seriamente em abrir um novo blogue chamado Offpunk, onde eu manteria um diário de bordo mostrando formas de resistir à digitalização, de viver sem a alta tecnologia e abrir caminhos para uma vida desconectada, independente das Big Tech; ou, como nas palavras de Eduardo Fernandes da newsletter Texto sobre Tela (veja a ponte no na seção Linkroll), buscando “a obsolescência como uma estratégia de liberdade”.
Tomo esse nome de empréstimo de um navegador feito para, acima de tudo, funcionar offline, que foi desenhado pelo escritor e desenvolvedor belga @ploum@mamot.fr.
• Offpunk, an offline-first command-line browser.
Mas penso em antes desenvolver um postura e uma estética em cima desse conceito. Penso em organizar referências culturais, apontar exemplos e caminhos nessa direção. O que nele se diferenciaria do “minimalismo digital” é que estaria relacionado a coisas como: voltar-se ao “low tech”, ao comunitário, ao analógico, ao não elétrico, à permacomputação; manter um estilo de vida de anticonsumo; e utilizar a internet de forma mais intencional, seguindo o ritmo da Slow Web. Para tanto, acho que vale pensar também em dispositivos configurados para esse propósito. Nesse sentido um texto do Ploum que traduzi chamado “Um computador feito para durar 50 anos” vai nessa direção.
• “O computador feito para durar 50 anos”, de Ploum (Ideias de Chirico).
Os argumentos são os de sempre: ter uma vida mais balanceada, mais presente, menos vigiada e com os dados menos explorados, sem se abster totalmente, no entanto, dos serviços digitais. Porém, ao contrário da postura neoliberal e individualista de buscar um “detox digital” em prol da produtividade, gostaria de dar um teor político a essa postura, defendendo o acesso à cidadania e ao lazer sem o intermédio do digital, e o direito à privacidade, a uma infância e uma velhice desdigitalizadas e a uma vida lenta.
Estou retirando muitas ideias dos textos que leio do Ploum, do Low-Tech Magazine (também de origem belga inclusive), bem como de um livro chamado “Digital Detox: a política da desconexão” (da escritora norueguesa Trine Syvertsen) ― que, se não me engano, ainda não foi traduzido para português (leio-o em inglês).
Acho que no começo do ano que vem faço ao menos um pequeno ”manifesto offpunk”, que pretendo traduzir em inglês e em francês. Escrevo isso mentalmente até lá. Aliás, o Ploum mesmo já se propôs a me ajudar na escrita.
Ainda sobre tecnopunkicidades...
Incrível como o simples fato de eu não acessar o Instagram faz algumas pessoas pensarem que sou um eremita, que vivo nas cavernas.
O produtor gráfico do meu livro falou mais cedo:
Não se você sabe, já que não usa mais o Instagram, mas aqueles casos de feminicídio estão sendo bastante discutidos...
(Eu li e ouvi sobre os casos pelo rádio, pela televisão e por podcasts ― com algum atraso talvez, mas soube no meu tempo).
Espera só para ouvir o que vão falar quando eu apagar meu perfil da plataforma... O que está me segurando lá é o que me faz refletir.
Ouvindo sobre o Pessoa
Não tenho falado muito de literatura neste blogue, mas me peguei muito preso neste episódio do podcast 451 FM, da revista 451:
451 MHz: # 174 Fernando Pessoa: todos os sonhos do mundo — 90 anos da morte do poeta.
Não sou muito de Fernando Pessoa, curto mais o que ele influenciou. Posso não gostar de Pessoa, mas gosto de quem gosta de Pessoa. Então por tabela gosto de Pessoa.
Mas o que se diz a respeito do autor nesse episódio fez-me ficar ainda mais interessado pela sua única obra que me interessa, “Livro do Desassossego”.
O livro são várias anotações do diário de Bernardo Soares, um pseudônimo pessoano, um “simples ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa”. Trata-se de uma “narrativa sem narração” ― alguns diriam uma prosa poética, outros um romance moderno. Na primeira vez em que o folheei (há dez anos), me agradou o caráter fragmentário e imagético do livro. Nas aulas de literatura portuguesa do curso de Letras, nosso professor sugeriu que lêssemos não linearmente, pulando à página do nosso gosto.
Mas voltando ao episódio da 451 em si, recomendo a escuta mesmo àqueles que já conhecem o autor português. Acho que há uma infinidade de coisas sobre as quais não sabemos tão facilmente e que o áudio-programa destrincha bem. Infelizmente, até por conta da ocasião do aniversário de morte do poeta, não tocaram no seu discurso racista.
Fast web
Estou prestes a enviar um meme por e-meio. Este é o atual estado digital.
Já disseram que parei no tempo. Só estou cansado de fast web.
Desejos para 2026
usar mais dinheiro vivo, pois detesto depender de eletricidade e de internet para pagar minhas coisas em balcões;
arrumar um “trabalho de verdade” (com alguma formalidade e constância);
estar cronicamente offline;
encerrar a imersão no francês (ano que vem completará dois anos que estou nesse idioma);
e começar a estudar alemão.
(“Desejos”, porque quem tem meta é empresa).
O desconhecido na língua estrangeira
Por que é menos desesperador ver uma palavra desconhecida na língua materna do que ver uma palavra desconhecida em língua estrangeira?
Estava aqui dando uma lida no meu agregador de RSS e fui clicando nas notícias. Aquelas em inglês eu batia o olho e na primeira palavra estranha eu desistia e ia para a próxima notícia. Aquelas em português, mesmo que eu não soubesse o que significava o termo, seguia na leitura.
Já tenho uma boa jornada com inglês, e sei que com paciência eu saco o significado das palavras na hora. Um dicionário médio também serve. Ainda assim, tenho muita resistência a ler nessa língua. Não sou capaz de dizer agora se o mesmo acontece em outras línguas que aprendi.
Será que isso acontece só comigo? Duvido.
Questão de didática (sobre outros punks)
Pergunto-me por que os punks dos anos 2000 não chamavam o “sistema” simplesmente de “capitalismo”. Isso seria bem mais didático.
Linkroll
Seção em que faço uma curadoria de pontes que encontro pela internet.
Ouvi falar que o Pinterest tem enchido a si mesmo de lixo de IA. Tenho-lhe um substituto: are.na.
A plataforma é autodescrita como um lugar de “playlists, só que de ideias” ou “um palácio de memórias da internet”. Em poucas palavras, é um recanto de curadoria, seja de música, de sítios web, de imagens ou de vídeos ― algumas listas têm tudo isso junto e misturado.
Outra vantagem do Are.na é o seu repositório. Algumas listas datam de 2014. Ah, e não precisa de conta para navegar e nem tem loginwall como o Pinterest.
Esqueci de publicar essa ponte no último linkroll: um sítio lindíssimo mostrando com o efeito granulado (dithering) funciona. O efeito granulado, para quem não conhece, é uma forma de tornar uma imagem mais leve, pixelizando-a totalmente no degradê entre duas cores (em geral, preto e branco).
Dithering, part 1 (Visualrambling).
Tornei-me um fã desse efeito desde que comecei a acompanhar as publicações do Low-Tech Magazine, citado lá em cima, ilustradas com imagens em dithering. Cheguei a tentar publicar somente fotos com essa estética aqui nas Ideias, mas dá um baita trabalho editá-las e deixá-las em um servidor estável.
A sedutora, esquisita e colossal beleza da indústria: desde fábricas de bonecas sexuais nos EUA, centros de pesquisa nuclear, fazendas de maconha na Dinamarca e fábricas de sapatos na Indonésia.
The Unintended Beauty of Big Industry in the 21st Century – in Photographs (Flashbak).
Um sítio que divulga notebooks costumizados com adesivos e os organiza por temas:
Essas artes são bem antigas (de meados da década de 2010), mas acho que ainda vale a divulgação: pôsteres imaginando propagandas de plataformas de entretenimento e redes sociais como se fossem tecnologias dos anos 1950. Gosto desse estilo retrofuturista e de como plataformas como Youtube e Facebook ainda eram vistas com uma certa simpatia...
Vintage social media ads as retro campaign (Brand Constructors).
Crescer entediado com os celulares está matando o poder transformador do tédio (ihu.unisinos.br).
Texto de newsletter pensando sobre resistência digital a partir da sutil guerra entre tecnologias no filme “Uma batalha atrás da outra” (2025), no qual “aparelhos analógicos aparecem como uma estratégia pra fugir da vigilância digital”.
Geriatria da tecnologia (Texto sobre tela ― Substack).
Considero “Uma batalha atrás da outra”, aliás, como um filme exemplar do que chamo de #offpunk.
Vídeo: “Sesame Street – Computer E/e”.
Citações
O smartphone é hoje um lugar de trabalho digital e um confessionário digital. Todo dispositivo, toda técnica de dominação gera artigos cultuados que são utilizados à subjugação. É assim que a dominação se consolida. O smartphone é o artigo de culto da dominação digital. Como aparelho de subjugação age como um rosário e suas contas; é assim que mantemos o celular constantemente nas mãos. O like é o amém digital. Continuamos nos confessando. Por decisão própria, nos desnudamos. Mas não pedimos perdão, e sim que prestem atenção em nós.
― Byung-Chul Han, filósofo teuto-coreano.
Não há condições de ensinar para uma mosca que mel é melhor do que bosta”
― meu psicoterapeuta.
Se uma árvore cai em um bosque e não há ninguém para a ouvir, ela faz ruído?
― Koan, um exercício mental budista.
Pedidos
Gosta destas Ideias de Chirico? Lembre-se de que suas publicações estão sob licença livre, não têm propagandas, não são transmitidas por algoritmo e são escritas por um humano. E para que este espaço, assim como outros da casa, permaneça no ar, depende da contribuição dos seus membros e de seus leitores. Se quiser que estas Ideias de Chirico e outros blogues da Ayom Media sigam na ativa, contribua com um Pix mínimo de cinco reais através desta chave aleatória (titular: Pedro Maciel):
6e610637-6ecb-48d8-994d-fda3020817ed
Além disso, se quiser incentivar minha escrita ou se quiser que eu escreva sobre algum tema específico, me mande uma contribuição pela chave Pix arlon.alves@protonmail.com, e me escreva um e-mail explicando o seu assunto.
#notas